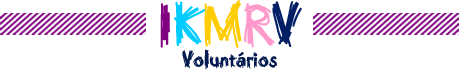Na sala de aula improvisada na Mesquita do Pari, um grupo de cerca de 20 pessoas recita junto com a professora o alfabeto e os números em português. O sotaque árabe é forte, mas a vontade de aprender também é grande: eles sabem que precisam se tornar fluentes no idioma para conseguir se adaptar à nova vida que estão construindo em São Paulo.
A turma é heterogênea: há jovens, idosos, um casal com crianças, engenheiros, professores, eletricistas, pessoas de todas as profissões e classes sociais. A maioria chegou ao Brasil sem conhecer ninguém. Também não tinham lugar para morar, fonte de renda ou conhecimento da cultura do país. Cruzaram o oceano rumo ao desconhecido na esperança de um recomeço após perderem casa, emprego e segurança na Síria, atingida por uma guerra civil que acaba de completar três anos.
Uma vez aqui, foram acolhidos por conterrâneos que conheceram pela internet e por comunidades religiosas como a da mesquita onde as aulas de português acontecem. Eles tentam ajudá-los como podem, auxiliando com a burocracia, com moradias provisórias, empregos informais, tratamento de saúde.
Mas as barreiras são muitas. Como eles chegam com visto de turismo (o pedido de refúgio tem que ser feito em território brasileiro), não podem tirar carteira de trabalho. Pior: podem ter que esperar sete, oito meses pela entrevista para obter o protocolo que serve como documento enquanto o registro definitivo não sai. Nesse período, o visto de turista vence, e eles acabam ficando ilegalmente no país até a situação ser regularizada.
Para conseguir se sustentar, muitos trabalham em lojas de roupas ou em feiras na região do Brás, independentemente da profissão que tinham antes de chegar aqui. Alguns ficam em hotéis por um período, outros dividem apartamentos com mais refugiados ou se hospedam em mesquitas, igrejas e abrigos.
E assim vão levando, tentando melhorar de vida e se adaptar a uma cultura que é muito diferente da sua. Há quem não aguente e procure outro país com oportunidades melhores ou até volte para a Síria. Foi o caso, por exemplo, de um casal que, sem saber onde procurar ajuda, foi morar na rua no centro de São Paulo e acabou sendo vítima de violência – a mulher foi estuprada no episódio. Traumatizados, eles preferiram voltar para o cenário de guerra.
Mas a maioria pretende ficar aqui ao menos até a situação melhorar em seu país. Para eles, as deficiências na assistência oficial acabam sendo compensadas pelo jeito acolhedor dos brasileiros. Conheça a seguir a história de alguns desses refugiados que vivem na maior cidade do país.
Eletricista e mulher grávida chegaram ao país por acaso

Abdallah e Nisreen Mohammed com os filhos no apartamento que dividem com outra família. Foto: Gabriel Chaim / G1
O casal Abdallah e Nisreen Mohammed chegou a São Paulo há apenas cinco meses, mas já tem um filho brasileiro. Nisreen, de 25 anos, estava no fim da gravidez quando embarcou no voo para o Brasil junto com o marido e uma filha de dois anos.
O plano inicial era ir para a Europa. Abdallah conta que pagou quase US$ 20 mil para um intermediário fazer um visto e enviá-los para “qualquer país da União Europeia que os aceitasse”. Segundo ele, o homem os enganou e eles só se deram conta de que teriam que desembarcar no Aeroporto de Guarulhos quando já estavam aqui. “Pensamos que faríamos uma conexão no Brasil e depois iríamos pra Europa”, diz o eletricista de 30 anos de idade.
O sírio diz que ficou “chocado” quando percebeu o que havia acontecido. “Chegamos aqui e é uma cultura diferente, um idioma diferente, não conhecíamos ninguém, não tínhamos dinheiro para sobreviver”, diz.
Com a ajuda dos voluntários da mesquita, Nisreen conseguiu fazer o pré-natal, ter o bebê na Santa Casa de Misericórdia e registrar a criança.
Mas a adaptação da família não está sendo fácil. Sem falar português ainda – não dá tempo de estudar, diz Abdallah –, ele conseguiu um emprego em um restaurante árabe no Brás. Junto com a mulher e os filhos, acaba de se mudar para um apartamento de dois quartos no centro, compartilhado com outra família de refugiados com quem não tinham tido nenhum contato antes de chegar aqui.
No ambiente quase sem móveis, há apenas uma cama de casal para o casal dormir com as duas crianças. “A vida em São Paulo é muito difícil. Não temos ajuda do governo, os aluguéis são muito caros comparados com o salário que a gente recebe. A vida é casa-trabalho-trabalho-casa”, diz.
Abdallah afirma que sente saudade de “tudo” na Síria, mas sabe que não dá para voltar para lá por enquanto. Com os bombardeios em Aleppo, cidade onde morava, ele perdeu casa, amigos e parentes. “Quando acabar a guerra, se tivermos como viver lá, queremos voltar. Mas antes precisamos de um lugar para construir nossa vida , abrir o nosso caminho”, diz.
Engenheiro preso por engano tenta superar trauma com a família
Na aula de português na mesquita, dois alunos se destacam. Sentados nas duas primeiras filas, Yara e Riad são espertos e participativos, e gostam de recitar as lições em voz alta junto com a professora.
Os irmãos, de 9 e 12 anos, chegaram ao Brasil em dezembro de 2013 junto com os pais, Talal Al Tinawi e Ghazal Baranbo. Talal, um engenheiro de 40 anos, decidiu deixar o país depois que foi preso pelo Exército Sírio – ele diz que foi confundido com um homônimo que o governo estava procurando.
Ele ficou 105 dias na cadeia. A esposa só ficou sabendo do seu paradeiro dois meses depois, quando ele conseguiu ligar para ela. “O maior sofrimento foi não saber onde ele estava nem o que havia acontecido com ele”, diz Ghazal, que tem 30 anos de idade. Um dia, quando ela o visitava com os filhos, os rebeldes atacaram a prisão com bombas e tiros. Traumatizadas, as crianças não quiseram mais ir visitar o pai.
Quando Talal foi solto, a família passou dez meses no Líbano e depois veio para o Brasil. Aqui, o engenheiro trabalha vendendo roupas infantis no Brás. Questionado se gosta de morar em São Paulo, ele responde que “ainda não”. “Preciso de tempo. Três meses não é suficiente”, diz.
As crianças já estão estudando: Yara em um colégio islâmico e Riad em uma escola pública na Vila Carrão (nome que o pai sofre para pronunciar). Graças à ajuda de voluntárias que os apoiam no dever de casa e dos amigos que já fizeram na escola, os meninos estão aprendendo rápido o idioma.
Riad conta que tem saudade da Síria porque lá a família tinha casa própria e carro. Também sente falta dos parentes e dos vizinhos, com quem brincava duas vezes por semana. Mas ele está se acostumando à mudança. “Gosto de morar aqui porque é um novo país”, diz, em português.
Ex-funcionário de TV estatal quer morar no Sumaré
Seu nome é Majd, mas ele prefere ser chamado de Miguel. Para facilitar a comunicação com os brasileiros, o engenheiro de telecomunicações Majd Soufan, de 27 anos, adotou esse nome depois de chegar ao país no fim de dezembro do ano passado.
Ele veio da Malásia, para onde seu pai o enviou em 2011, preocupado com a sua segurança após ele ter participado de manifestações de rua no início da guerra. Miguel trabalhava na televisão estatal síria e ia ter que servir o exército, o que tornava sua situação mais difícil.
O engenheiro fez mestrado em sistemas de celulares na Malásia, mas quando acabou seu curso e seu visto não foi renovado, precisou encontrar outro país onde morar. Acabou chegando ao Brasil após ler sobre os voluntários da Mesquita do Pari no site da ONU. “Peguei o endereço e vim. Foi uma aventura”, diz.
Como muitos outros compatriotas, Miguel trabalha em uma loja de roupas, mas quer validar seu diploma para poder um dia voltar para a sua área. “Queria muito trabalhar na Vivo, na Claro. Eu posso ajudar, tenho muitas ideias”, afirma.
Aluga um quarto no Brás, mas diz que sonha em se mudar para seu bairro predileto na cidade: o Sumaré. “Gosto de lá. É limpo, organizado. Uma boa área”, explica.
O domínio de idiomas está ajudando no aprendizado de português: Miguel fala árabe, alemão, inglês, farsi (língua do Irã) e um pouco de chinês. “Eu quero ser brasileiro”, diz, em português, durante a entrevista, com bom humor.
Seu tom fica mais grave ao falar sobre a guerra e sobre a família, que continua na Síria. “Nossa casa foi destruída, nossa fábrica, nossas terras, tudo se foi. Muitos amigos meus estão mortos, alguns poucos escaparam de lá”, conta.
Depois que a casa foi bombardeada, seus pais foram morar na casa de parentes. Eles querem sair da Síria, mas Miguel diz que há barreiras. “O problema é que minha avó é muito idosa, não consegue andar, e meu pai não quer deixá-la lá”, diz.
Comunicativo, ele diz que já fez muitos amigos brasileiros. “E quero fazer muitos mais”, afirma.
Estilista que trabalha na Feira da Madrugada conta drama de parentes
A guerra obrigou a família de Nour Koeder, 23, a se separar: ele mora em São Paulo; o pai, na Jordânia, com um de seus irmãos; a mãe foi para o Líbano e a irmã e outro irmão dele continuam na Síria.
Nour é de Arbeen, cidade próxima a Damasco que foi uma das atingidas por armas químicas que teriam sido jogadas pelo governo sírio em agosto do ano passado. O rapaz conta que não estava lá na época, mas soube da tragédia por amigos e familiares.
A família de Nour foi toda afetada pelo conflito. O tio e a mulher dele foram mortos por um bombardeio aéreo. Um primo dele está preso há quase dois anos. E o pai de Nour ficou preso por seis meses também – segundo o garoto, apenas por ser de uma cidade onde há muitos revolucionários. “Ele não fez nada. Ele tem 56 anos, trabalhava em uma companhia, só ia para o trabalho todos os dias”, conta.
O rapaz diz que não conseguiu reconhecer o pai quando ele saiu da prisão, com 25 quilos a menos e a mesma roupa que usava no dia em que havia sido detido.
Estilista, Nour desenhava vestidos de noiva de alta costura na Síria. Hoje, trabalha na Feirinha da Madrugada do Brás e mora com uma tia que vive no país há 35 anos. Diz que, mesmo longe, a guerra o inquieta. “Estou no Brasil e mesmo assim tenho medo. Não por mim, mas por minha família na Síria”, diz.
Professora de inglês mora com brasileiras e sonha em voltar a lecionar
Dana Albalkhi, 25, está no Brasil há apenas três meses, mas já aprendeu muitas palavras em português. O fato de ter trabalhado como professora de inglês na Síria ajuda na facilidade para aprender o idioma, mas além disso ela mora com duas garotas brasileiras em São Paulo, e diz que aprendeu muito com elas.
“No primeiro mês eu só me comunicava com gestos. Depois comecei a aprender com as brasileiras que moram comigo e também no trabalho”, diz ela, que trabalha em uma loja de roupas no Bom Retiro, “apenas para começar”. “Quando eu tiver meus papéis, posso, quem sabe trabalhar dando aulas”, diz.
A jovem é de Daraa, uma das cidades onde começou a revolução síria. Ela diz que a situação lá está “feia”. “Tem bombas o tempo todo, não há eletricidade. Minha mãe me diz que todo dia há alguma coisa acontecendo lá”, conta.
Dana deixou a Síria em outubro. Foi para a Turquia, mas achou a língua difícil demais de aprender e não conseguiu emprego. Diz que gosta de cidades grandes como São Paulo. “Aqui tem muitas oportunidades. Basta saber aproveitá-las”, afirma. E completa: “Quero ficar aqui. Inshallah [se Deus quiser].”
Fonte: G1