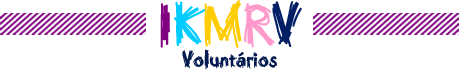O diretor da peça “A Ilha”, Gary M. English (esq.) e o ator palestino Faisal Abu Alhayjaa falam do Teatro da Libertação e a sua causa por uma “cultura de resistência”. Foto: Moara Crivelente
Ahmad Alrakh e Faisal Abu Alhayjaa são dois jovens palestinos do campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, onde cresceram com o teatro, à volta de uma “cultura de resistência” e da luta pela libertação.
Eles interpretam dois prisioneiros políticos na peça de Athol Fugard, baseada na prisão de Mandela, por 18 anos, na Ilha de Robben, hoje transformada em museu. Em entrevista, Faisal diz que a peça também é sobre os prisioneiros políticos palestinos: “praticamente não precisamos adaptá-la para corresponder também à nossa realidade”.
O Teatro da Liberdade tem uma trajetória cheia de simbolismos relacionados diretamente com a situação de ocupação em que vive a Palestina. “Não só ocupação física, mas também psicológica, emocional”, diz Faisal. O teatro, um centro cultural que funciona desde 2006 dentro do campo de refugiados de Jenin, tem ofertas variadas: a formação de atores, cursos de iluminação, som, documentários, cinema, fotografia e escrita criativa, além de terapias relacionadas ao teatro.
A proposta foi impulsionada por três homens de históricos bastante destoantes: Juliano Mer-Khamis, filho de uma ativista judia e de um palestino; Zakaria Zubeidi, que foi comandante das Brigadas Al-Aqsa no combate contra a invasão israelense de Jenin, em 2002; e Jonathan Stanzac, um suíço judeu.
Cultura de resistência
Faisal entrou para a escola de formação de atores na adolescência, e revela que a sua vida foi transformada quando assistiu “As Crianças de Arna” (“Arna’s Children”), um documentário dirigido por Juliano Mer-Khamis, sobre o trabalho de sua mãe, uma dramaturga israelense. No documentário, o primo de Faisal, Ashraf, conta sonhar em ser um “Romeu palestino”.
Ashraf foi morto em 2002, quando as forças israelenses invadiram o campo de refugiados de Jenin, durante a Segunda Intifada, o levante popular contra a ocupação. Faisal conta que tinha o sonho infantil de ser um ator de teatro, mas que a ideia lhe parecia impossível, e assistir o documentário foi, para ele, a primeira ligação com o Teatro da Liberdade.
Juliano, um dos ideólogos e diretor-geral do teatro, caracterizava a proposta como um “sonho de que o Teatro da Liberdade se torne uma força expressiva, cooperando com outras para gerar uma cultura de resistência [que] carregue em seus ombros valores universais de liberdade e justiça.” Sua ideia deriva do projeto iniciado por sua mãe, a comunista israelense Arna Mer, do Teatro Stone, dos anos 1990, que funcionou como uma escola alternativa que lidava com questões traumáticas no campo.
Arna foi uma colona judia que combateu nas tropas Palmach do exército clandestino Haganah, contra o mandato Britânico, em 1948, mas mudou de trajetória ao integrar o Partido Comunista Israelense, casar-se com o palestino Saliba Khamis e estabelecer a escola em Jenin.
O diretor da peça “A Ilha”, Gary M. English, também fala, em entrevista, sobre a criação do teatro e da sua relevância para a comunidade de refugiados. Além disso, algumas questões complexas sobre a recepção negativa inicial ligam-se diretamente, como é inevitável, à situação de desconfiança, por um lado, e ao conservadorismo social e religioso, por outro.
Juliano tinha origens judia e árabe e chegou a servir no Exército israelense, destacado em Jenin. Segundo Gary, o Ocidente deu mais importância do que mereciam, de fato, os receios locais de que ele colaborasse com o regime israelense, assim como à percepção conservadora de que sua proposta desafiava demais as bases da sociedade local, questionando papeis familiares e políticos, como o papel da mulher.
Para Faisal, sua proposta era mesmo essa, já que a libertação significava também soltar as amarras psico e socialmente construídas. O jovem conta ter observado a evolução da ideia quando, no seu início, não havia moças palestinas na equipe do teatro, enquanto atualmente, elas representam mais da metade dos membros.
Juliano foi assassinado em 2011, aos 52 anos, e o autor dos disparos que o mataram ainda não foi identificado, apesar de alguns meios de comunicação especularem, novamente, sobre o rechaço de parte da comunidade local a suas ideias. Gary lembra, entretanto, que não houve investigação suficiente sobre o tema. Ao contrário de outros eventos, as autoridades israelenses empenharam esforços mínimos neste sentido e usaram o incidente como pretexto para fazer buscas e inspeções na região.

A Ilha
A peça foi estreada em março, em Jenin, diante de uma grande audiência. Para Faisal, tratava-se de um enorme desafio, já que grande parte do público tinha experiência direta com a prisão. Um senhor que esteve preso por 27 anos, chamado Abu Sucre, conta o jovem, disse-lhe que a peça era excelente, e que chegou a pensar em juntar-se aos atores no palco, porque se lembrou do seu tempo detido, nos anos 1990. Mas faltava um detalhe: “Quando íamos dormir, sempre colocávamos os sapatos sob a cabeça, como uma almofada.” A sugestão foi logo incorporada à peça, conta o ator.
A profundidade das sensações causadas pela encenação é de extrema relevância, ao se tratar de um drama nacional que faz parte fundamental da vida dos palestinos na ocupação. “São emoções que apenas palavras e um discurso político não conseguem cobrir”, diz Faisal, e que refletem um aspecto do conflito frequentemente negligenciado pelos meios de comunicação.
Faisal explica um pouco do seu papel na peça, interpretando um dos dois prisioneiros, Winston. Na versão em árabe, trata-se de Muhktar, que discute com o seu companheiro de cela, John, sobre a peça que ambos estão preparando, “Antígona”, de Sófocles. Enquanto repassam papeis e discutem sobre a recusa de Winston em representar “a mulher”, ambos falam sobre o trabalho forçado numa pedreira e sobre os desmandos de Hodoshe, o diretor carcerário.
O clímax é atingido quando John recebe a notícia de que a sua sentença de 10 anos foi reduzida, e que poderá deixar a prisão em três meses. Winston sente-se abandonado e inveja a liberdade que se aproxima do companheiro, enquanto ambos relembram suas famílias e vilas. Agora, John sabe pelo quê espera e tem previsões, mas Winston desespera-se com o abandono e a falta de perspectivas sobre a liberdade: “Como conto os meus dias, John? Vamos, me ajude: um, e aqui vem outro dia; um, e chega mais um dia…”
Quando perguntado sobre a sua percepção da ligação entre a peça, baseada na experiência de Mandela, e a sua própria causa, como palestino, Faisal diz: “Não vejo muita diferença, na verdade. Quando li o texto, disse a Gary que não precisávamos adaptá-la. Ela já falava de nós, é a mesma prisão, a mesma experiência, a mesma questão, a mesma segregação. Não entre brancos e negros, mas entre árabes e judeus. Você visitou Hebron [uma importante cidade da Cisjordânia, com centenas de colonos e milhares de soldados israelenses] e viu como a rua é separada: um lado para árabes, outro para judeus.”
“Esta peça é também um grito: já basta, não concordamos com isso, com a ocupação e com a segregação.” Trata-se “da mesma ideia e da mesma alma”, e é disso que trata a cultura de resistência, completa o ator. Conectar arte ao ativismo transforma-se também num instrumento eficiente para propagar a causa palestina, em geral, assim como questões específicas, como a dos prisioneiros políticos. “A mídia relata o que acontece como um conflito, mas isto não é bidirecional, é uma ocupação e [um regime de] segregação, e é isso o que queremos mostrar. O que aconteceu na África do Sul acontece ainda hoje na Palestina; vemos e enfrentamos isso todos os dias.”
Fonte: Vermelho