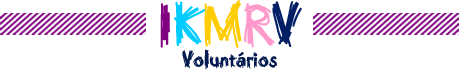Vinte anos atrás, no dia 6 de abril, começou o genocídio contra os tutsis em Ruanda. Na época, muitos repórteres ocidentais minimizaram o conflito, dizendo que era uma “guerra étnica”, inclusive Bartholomäus Grill, hoje um correspondente do “Der Spiegel”. Ele olha para trás e sente vergonha.
Bartholomäus Grill
Era abril de 1994. Princess havia sido infectada pelo clima de animação febril que tinha tomado conta de toda a África do Sul na época. Ela era nossa empregada em Johanesburgo, uma mulher gorda, calma e bem-humorada, cujo nome verdadeiro era Nolizwe Mneno. Ela havia mudado seu nome para torná-lo mais fácil para os brancos se lembrarem.
A primeira eleição livre na história do país havia sido marcada para o final do mês, uma eleição em que todos os cidadãos -negros e brancos- iriam participar pela primeira vez. O fim do apartheid chegou às manchetes em todo o mundo, um evento memorável com mais de 400 correspondentes –inclusive eu.
Em 16 de abril, 11 dias antes da “mãe de todas as eleições”, um contingente de imprensa acompanhou Nelson Mandela, o futuro presidente, ao bairro de Umlazi Township perto de Durban. Foi uma de suas últimas aparições antes da eleição, e cerca de 50 mil pessoas se reuniram para um comício ao ar livre, dançando, cantando e celebrando o combatente da liberdade como se ele fosse o messias.
A dominação branca estava chegando ao fim; um sonho africano estava se tornando realidade. Era a notícia do dia, mas apenas porque ninguém -nem eu- estava ciente da magnitude do pesadelo que se desenrolava no centro do continente naquele momento. Eu trabalhava para a revista alemã “Die Zeit” na época e, como outros, também escrevi à distância histórias imperdoáveis , pelas quais eu tenho vergonha hoje, 20 anos depois.
Os primeiros relatos de Ruanda, 4.000 km ao norte, eram confusos: confrontos militares, agitação sangrenta, disputas étnicas e rivalidade entre irmãos. O “Der Spiegel” publicou uma matéria em sua edição de número 16/1994 que falava de uma “anarquia que se alimentava de si mesma”. O que acontecia em Ruanda foi desconsiderado como um conflito tipicamente africano. “Ruanda?”, perguntou um colega britânico: “Ah, são apenas os tutsis e os hutus quebrando a cabeça um do outro. É a interminável guerra tribal”.

Criança chora em campo de refugiados em Ruhango, a cerca de 50 km da capital de Ruanda, Kigali, em fotografia de 6 de junho de 1994. Este ano, o genocídio de Ruanda completa 20 anos. Mais de 800 mil pessoas da etnia tutsi foram assassinadas em cem dias, em massacres planejados pela maioria étnica hutu
A “guerra tribal” foi de fato um genocídio, o mais terrível desde o assassinato de judeus pelos nazistas no Holocausto e os “Campos de Morte” do Camboja.
“Nós fomos abandonados. Todo mundo olhou para o outro lado”, diz Jonathan Nturo, 34, um homem magro, de ossos pequenos. Ele está todo arrumado, com uma jaqueta de couro vermelho, jeans Burberry e óculos escuros. Ele quer parecer bem enquanto visita o inferno de onde conseguiu escapar.
Um mistério até hoje
De pé no topo de uma colina em Murambi, um assentamento amplo no sul do Ruanda, Nturo conta como ele, sua família e suas cinco cabeças de gado chegaram até lá. Ele descreve como eles criaram, juntamente com dezenas de milhares de pessoas aterrorizadas, um campo de emergência em um canteiro de obras de uma escola de ensino médio, ao lado de três betoneiras amarelas que estão ali até hoje, enferrujadas. As tropas do governo tinham prometido proteger os refugiados, e eles ainda tinham esperança de escapar dos assassinos em massa. Jonathan Nturo tinha 14 anos.
No dia 6 de abril, às 20h20, um avião que transportava o presidente ruandês Juvénal Habyarimana foi derrubado, quando se aproximava do aeroporto da capital, Kigali. As circunstâncias do incidente permanecem um mistério até hoje. Mas o assassinato aparente marcou o início do genocídio. Naquela mesma noite, a guarda presidencial e as milícias Interahamwe (que quer dizer “lutar juntos”, na língua oficial de Ruanda, Kinyarwanda) entraram numa fúria assassina e incendiária pelas ruas de Kigali. Um grupo de hutus fanáticos havia tomado o poder e decidira acabar de uma vez por todas com a minoria tutsi, que representava cerca de 10 % da população. A violência varreu todo o país em uma semana.
“Meu pai não quis acreditar, no começo”, lembra Nturo. “Só quando aldeias começaram a queimar em nossa região e três dos meus irmãos foram mortos que partimos na direção de Murambi”. Eles alcançaram o que acreditavam ser um relativo porto-seguro no dia 10 de abril, por volta das 16h.
Às 22h30 daquela noite, o tenente-general Roméo Dallaire, em Kigali, ligou para o seu centro de operações em Nova York. O oficial canadense era o chefe da Unamir, a Missão de Assistência a Ruanda da Organização das Nações Unidas. Sua função era manter a frágil paz e salvaguardar a transição para a democracia que havia sido negociada nos Acordos de Arusha em 1993.
Durante meses, Dallaire emitiu alertas terríveis sobre a escalada da violência em Ruanda. Em janeiro, ele informou sobre esconderijos de armas secretas, listas de pessoas marcadas para morrer e esquadrões da morte, em um telegrama criptografado. O pior cenário das forças de paz havia se tornado realidade. Dallaire solicitou reforços imediatos, argumentando que o desastre poderia ser evitado com cerca de 4.000 soldados e um mandato forte. Mas seus superiores no Departamento de Operações de Manutenção da Paz, liderado por Kofi Annan, que depois se tornou secretário-geral da ONU, negaram seu pedido. Eles se recusaram a acreditar que um crime contra a humanidade estava prestes a acontecer em Ruanda.
Holocausto africano
Nos 100 dias que se seguiram, o regime hutu e seus cúmplices assassinaram cerca de 800.000 tutsis e hutus moderados- o equivalente a cinco mortes por minuto. É provável que nunca antes na história da humanidade tantos perpetradores assassinaram tantas pessoas em período de tempo tão curto. Roméo Dallaire caracterizou-o como um “holocausto africano”.
O inferno eclodiu em Murambi às 3 horas da manhã no dia 21 de abril. De repente, os soldados começaram a atirar indiscriminadamente contra a multidão, lançando até granadas de mão, diz Nturo. Uma hora depois, as milícias das colinas circundantes invadiram o acampamento e começaram a massacrar sistematicamente os refugiados indefesos, usando facões, facas, lanças, foices, enxadas e paus.
A família Nturo foi dilacerada em meio ao caos. Jonathan se juntou a um grupo de jovens que tentava se defender desesperadamente, jogando tijolos do canteiro de obras. Mas eles estavam em menor número. Quase milagrosamente, cerca de 100 dos refugiados cercados, incluindo Nturo, conseguiram escapar no meio do tiroteio do exército. Eles correram descendo o vale e atravessaram a nado o rio Murambi.
Nturo aponta para um bananal na encosta oposta, onde se esconderam nas primeiras horas da manhã. Ele tenta não deixar transparecer como as memórias são perturbadoras para ele.
No entanto, ele parece tenso, gesticulando muito, falando rapidamente e gaguejando ocasionalmente. “Temos medo de falar sobre isso”, diz ele. Ele nos conta sobre as noites de insônia, quando os fantasmas do passado voltam para assombrá-lo, e sobre as tentativas frustradas de tratar com terapia o transtorno de estresse pós-traumático.
Pelo menos 40.000 pessoas morreram em Murambi, a cena de um dos massacres mais terríveis. Ninguém sabe o número exato de mortos, mas até hoje são encontrados esqueletos na área. “Kubera umurimo wari wakozwe” (“Vocês fizeram um bom trabalho”), disse o prefeito do distrito de Gikongoro, agradecendo as hordas de assassinos.
As primeiras imagens que apareceram nas redes de televisão ao redor do mundo durante esses dias iniciais foram tão monstruosas e inconcebíveis que os comentaristas se referiram à matança como uma “aberração da natureza”, um frenesi assassino, uma “maladie de tuer”, ou “doença de matança” – como se o genocídio tivesse aparecido em Ruanda como um vírus insidioso.
Imprensa mundial ingênua
Hoje sabemos que o genocídio não foi uma obra de poderes arcaicos e caóticos, e sim de uma elite culta, moderna, que se valeu de todas as ferramentas de um Estado altamente organizado: os militares e os policiais, os serviços de inteligência e as milícias, a burocracia do governo e os meios de comunicação. Os assassinos não eram demônios, e sim capangas de um sistema criminoso. Eles seguiram uma lógica simples de extermínio: se nós hutus não acabarmos com os tutsis, eles vão nos destruir.
Um memorial nacional foi construído em Murambi, onde a escola em construção foi deixada inacabada. “A mídia não descreveu o que aconteceu aqui como genocídio, e sim como disputa étnica”, diz o primeiro painel informativo. Os ruandeses não se esqueceram de como a imprensa mundial foi ingênua naquele momento.
Os excessos assassinos não tinham nada a ver com “guerras tribais”. Os hutus e os tutsis compartilharam por séculos língua, costumes e cultura. Havia casamentos mistos, e muitos ruandeses não sabiam nem dizer se alguém era hutu ou tutsi. As causas da tragédia vieram a ser encontradas em outro lugar: as pressões da superpopulação em um pequeno país agrícola, a luta por recursos escassos, as políticas de segregação coloniais que fomentaram o racismo latente entre os grupos étnicos e a sede de poder da elite dominante.
Um fedor nauseante de decomposição emerge das portas abertas das salas de aula em Murambi. Centenas de corpos, conservados por cal, estão em plataformas de madeira em seu interior: pessoas com membros decepados, crianças decapitadas, crânios esmagados com pontas de lança salientes, mulheres cujas pernas foram rasgadas para o estupro -e rostos congelados em expressões de horror.
Tradutor: Deborah Weinberg
Fonte: Controvérsia