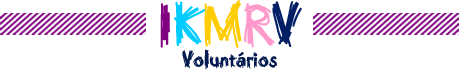Documentário retrata as opiniões de crianças palestinas e israelenses sobre os conflitos entre os dois povos e como se formam os discursos de ódio.
 Em 1997, o cineasta americano-israelense B.Z. Goldberg resolveu dar voz a crianças palestinas e israelenses para que elas expressassem sua visão sobre o conflito que se arrasta há décadas. Fugia-se, desta forma, da retórica empolada e cínica dos políticos, sentados em seus escritórios com calefação e ar-condicionado, assépticos, imunes ao sofrimento e angústia cotidiana vividos por quem é refém do medo e do terror, de ambos os lados.
Em 1997, o cineasta americano-israelense B.Z. Goldberg resolveu dar voz a crianças palestinas e israelenses para que elas expressassem sua visão sobre o conflito que se arrasta há décadas. Fugia-se, desta forma, da retórica empolada e cínica dos políticos, sentados em seus escritórios com calefação e ar-condicionado, assépticos, imunes ao sofrimento e angústia cotidiana vividos por quem é refém do medo e do terror, de ambos os lados.
O resultado foi um emocionante e esclarecedor documentário intitulado Promessas de um novo mundo (Promises, no original em inglês), lançado em 2001, resultado do acompanhamento da vida de sete crianças com idade variando entre nove e treze anos, moradoras de Jerusalém e seus arredores, não mais de vinte minutos de distância física entre si, embora os muros simbólicos, conforme as crianças vão dando seus depoimentos, sejam altos e aparentemente intransponíveis.
A seguir, apresento as personagens principais do documentário para, em seguida, compartilhar algumas reflexões sobre o que é dito por elas. Antes, porém, devo deixar claro que é totalmente falsa a afirmação de que as raízes do conflito israelense-palestino colocam questões cuja profundidade e complexidade desafiam análises convencionais. Não há nada de “cósmico”, “choque de civilizações”, guerra “endêmica e irreconciliável” e “milenar”. Tais interpretações apenas dificultam o entendimento das razões que orientam a ação de cada uma das partes envolvidas e o estabelecimento de um processo de paz realmente justo.
As primeiras personagens são dois gêmeos israelenses de classe média, Yarko e Daniel. Sentados no ponto de ônibus, esperando pelo de número 22, expressam o medo de ataques terroristas (a década de noventa foi marcada por uma série de atentados terroristas em Jerusalém e Tel-aviv, em que ônibus eram alvos preferenciais). Um deles diz que é bobagem evitar o ônibus 22, estigmatizado, porque o terrorista pode entrar em qualquer um a qualquer hora e em qualquer lugar do trajeto.
A sociedade israelense é marcada pela convivência, cada vez mais tensa, entre religiosos e seculares. Os gêmeos são seculares e demonstram esta visão de mundo num diálogo constrangedor com o avô. Afirmando, inicialmente, que “alguns judeus acham que foi Deus quem criou este Estado, mas, a verdade é que, depois da guerra, eles vieram aqui e fundaram o Estado. Então, não Deus” um dos gêmeos pergunta se o avô, sobrevivente de campo de concentração, acredita em deus, recebendo a seguinte resposta: “Eu não acredito que Deus pudesse ter ficado olhando, sem fazer nada”. O neto retruca: “Então não acredita”. O documentarista os leva ao Muro das Lamentações, mas eles não querem chegar perto. “A gente não conhece estas pessoas, elas têm opiniões diferentes. Por exemplo, se a gente gritasse alguma coisa que eles não gostassem, eles comiam a gente vivo!”, “Esses velhos todos me dão medo”, “Prefiro visitar uma aldeia árabe a ficar aqui com todos esses religiosos”.
Em seguida, somos apresentados a Mahmoud, um jovem loiro, pele clara e olhos azuis, morador do setor palestino de Jerusalém Oriental. Sua família é dona, há três gerações, de uma mercearia, cujo principal produto é o café. Mahmoud leva o espectador ao interior da mesquita de Al-Aqsa, seu discurso é religioso e sua raiva contra “eles”, os judeus, é patente no brilho de seus olhos. O centro do conflito é a posse de Jerusalém: “Os judeus dizem que esta terra é deles. Como a terra pode ser deles? Se é a terra deles, por que o Alcorão diz que Maomé fugiu de Meca para a mesquita Al Aqsa em Jerusalém? Então, Jerusalém é nossa! Dos árabes!”, “Nasci e fui criado aqui”.
Na escola islâmica para meninos, em Jerusalém Oriental, onde Mahmoud estuda, o professor pergunta quem gosta da liberdade, e se as crianças da Palestina vivem em liberdade. A resposta em uníssono é “não”. Em seguida, pede para um dos alunos fazer um desenho no quadro negro representando o seu sentimento, dando o exemplo das pessoas (árabes) que não podem rezar livremente em Jerusalém. Mahmoud se voluntaria, vai ao quadro negro, desenha e explica: “Esta é uma criança com uma pedra dizendo ‘vou matar eles’”, “a outra criança está chorando, ‘ mataram minha mãe, pai e irmã, que Deus amaldiçoe eles”. O professor, finalmente, pergunta aos alunos o que diz o Alcorão com relação a Jerusalém, e a turma diz que pertence aos palestinos.
Mahmoud apoia o Hamas e o Hezbollah, grupos considerados terroristas pelo governo israelense, e de resistência à ocupação israelense pela população palestina da Cisjordânia e Gaza. Ele acredita ser compreensível ou justificável matar mulheres e crianças em nome da independência de seu país porque “quanto mais judeus eles matarem, menos judeus vai sobrar, até que acabem quase sumindo”. Ele acha os judeus “maus” e “traiçoeiros”, não tem vontade alguma de conhecer crianças judias e, ao ser confrontado pelo documentarista que afirma ser um “menino judeu”, reage dizendo que não é um “judeu de verdade” por ser americano. A câmera fecha nas mãos entrelaçadas dos dois.
No bairro judeu da Cidade Antiga de Jerusalém encontramos Shlomo. Ele estuda doze horas por dia os textos sagrados da religião judaica e, por estar acostumado a ouvir os sinos da igreja cristã bem como o chamamento para a reza na mesquita vizinha, não se sente incomodado. Sente-se totalmente seguro ali, porque nem Saddam Hussein atacaria aquela parte da cidade, sagrada para as três grandes religiões monoteístas. Shlomo diz que compreende a insatisfação dos árabes (palestinos) “porque eles foram expulsos daqui, cinquenta anos atrás, e eles se sentem muito pequenos; muito feridos, porque foram expulsos desse jeito”. Ele fala das provocações entre crianças judias e palestinas que moram na cidade antiga e admite que “nunca tive um amigo árabe, amigo mesmo” embora já tenha sido “amigo de cumprimentar, dizer ‘oi’ na rua”. Admite, ainda, que conhece adultos palestinos e israelenses que “se dão muito bem”, mas não crianças. De repente, começa uma guerra de arrotos com um menino palestino que havia se aproximado pouco antes. A guerra, desta vez, termina empatada.
Nossa próxima personagem é Sanabel, moradora do campo de refugiados de Daheishe, a quinze minutos de Jerusalém, já dentro dos Territórios Palestinos, na Cisjordânia. Neste campo moram refugiados e seus descendentes, filhos, netos e bisnetos, da guerra de independência de Israel em 1948 (que os palestinos chamam de “nakba”, ou “catástrofe”) quando tem início o êxodo de palestinos que habitavam parte do que hoje é território israelense.
Sanabel diz, logo de início, que “os judeus nos expulsaram e nos colocaram neste campo”. Seu pai dela é jornalista e um dos líderes da Frente Popular pela Libertação da Palestina, facção política que se opõe ao processo de paz. Está preso há dois anos, embora nenhuma acusação tenha sido feita e sem julgamento ainda.
No mesmo campo de refugiados de Daheishe conhecemos Faraj Hussein. Ele nos conta que, durante a primeira Intifada, iniciada em 1987, um de seus amigos jogou uma pedra num soldado israelense, que revidou com tiros, matando-o. Faraj diz que “queria cortar aquele soldado ao meio, explodir ou dar um tiro nele para vingar a morte de Bassam (seu amigo)”. Ele acredita que os postos de fiscalização nas entradas dos territórios ocupados só servem para humilhar a população palestina impedida de entrar no território israelense, os soldados dizendo “você é um árabe, e vai sempre ser um árabe”, comportamento oposto àquele dispensado a judeus e norte-americanos. Faraj diz que, quando vê um judeu, sente vontade de jogar pedras e pensa, até, em matar. Ele acredita que é visto pelos judeus, sempre, como um terrorista.
A avó de Faraj lhe apresenta a documentação, uma de 1931 e outra de 1942, que comprova que um pedaço de terra, hoje no lado israelense, pertencia à sua família. Ela também mostra a chave da casa. O documentarista leva avó e neto ao antigo local onde ficava a aldeia. Faraj acha uma estrela de David pintada em uma pedra e pergunta se deve chutá-la. A pergunta é feita enquanto efetivamente a chuta. Ele acredita ter o direito de voltar para aquele local e que se não for sua geração, quem sabe, na próxima, na de seus filhos.
Dentro da Cisjordânia, no assentamento judeu de Beth-El (Casa de deus, em hebraico), a vinte minutos de Jerusalém, vive Moishe. Para ele, Deus prometeu a terra de Israel aos judeus, mas “os árabes vieram e tomaram a terra”. No assentamento “moram pessoas que lutam contra os árabes”, e a luta acontece “porque essa terra é nossa (dos judeus)”. Está no Velho Testamento: “E Abraão tinha 99 anos de idade. E Deus falou a Abraão: ‘vou dar esta terra a você e seus descendentes, a terra toda do Canaã como posse permanente. E essa benção passou de Abraão para Isaac e Jacó. E um anjo mudou o nome de Jacó para Israel. Por que somos chamados de Israel? Por causa dele”. Se pudesse escrever o futuro, continua Moishe, “todos os árabes sumiriam da face da terra, só os judeus ficariam”. O assentamento de Beth-El é vigiado pelo exército israelense vinte e quatro horas por dia, uma vez que seus habitantes estão “cercados de árabes”. Moishe não conhece nem tem interesse em conhecer crianças árabes.
No campo de refugiados de Daheishe o documentarista pergunta a um grupo de crianças palestinas se gostaria de conhecer crianças judias. O grupo se divide. Os que são contrários ao encontro acreditam que, mesmo que as crianças judias compreendam seu drama, quando crescerem ficarão ao lado dos pais, caso contrário, “o pai o mata”, “ele vai preferir excluir a gente a se juntar a nós e ser excluído”.
Os que são favoráveis argumentam que é preciso, primeiro, conhecê-las para, depois, se for o caso, contestá-las, e que “todas as crianças são inocentes”. Sanabel acredita que árabes e judeus devem se encontrar, “porque nenhuma criança palestina tentou explicar nossa situação para os judeus” e que políticos devem ficar de fora destes encontros. Faraj pergunta ao documentarista se pode falar com os gêmeos pelo telefone, o documentarista liga e os três conversam sobre gostos culinários (pizza, humus) e preferências futebolísticas.
Finalmente, o encontro. As crianças israelenses são recebidas pelas palestinas no campo de refugiados de Daheishe. Elas brincam e compartilham uma refeição. Como vivenciaram o momento? Um dos gêmeos achava que qualquer um que gostasse do Hamas “fosse louco”, como algumas daquelas crianças palestinas com quem teve contato, e, apesar de se sentir incomodado com as pichações alusivas à ocupação israelense, “se eu fosse eles, ia me sentir da mesma forma”. Faraj se diz dividido, quer se unir às crianças israelenses, mas não tem certeza. Outra criança palestina chora ao lembrar-se do irmão que morreu (presumivelmente após ataque de soldados israelenses) e o outro gêmeo rebate, “israelenses também são mortos”. Ele também conclui que “nem todos os palestinos são do Hamas, e nem todos os israelenses matam árabes”. Faraj chora quando se dá conta que o documentarista em breve irá embora, assim como os gêmeos, com quem fez amizade.
Dois anos se passam. Para Faraj as coisas pioraram. Os planos para o futuro podem não acontecer “porque a vida que a gente leva não permite que a gente realize nossos sonhos”. Já Sanabel gostaria de encontrar mais pessoas e crianças judias “porque muitas delas são inocentes, até alguns dos adultos”. Shlomo não tem interesse no assunto. Mahmoud acha que árabes e israelenses devem encontrar a paz, contanto que a terra seja devolvida aos verdadeiros donos, os árabes. Os judeus poderiam continuar vivendo ali, mas como “hóspedes”. Moishe acha que a questão deve ser resolvida pelos adultos com mais de trinta anos. Um dos gêmeos quer a paz, mas não lida com isso no seu dia-a-dia. Tem seus amigos e o voleibol.
Em primeiro lugar, é patente o mal que a religião faz ao desafio de trazer para a mesa de negociações tanto israelenses quanto palestinos. Mahmoud é ensinado na escola islâmica que Jerusalém é dos palestinos e justifica a afirmação baseado no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Por outro lado, Moishe cita o Velho Testamento para justificar a legitimidade da ocupação israelense da Cisjordânia, ele mesmo vivendo num assentamento ilegal. Não é de se admirar que ambos não tenham interesse de conhecer o outro lado e convivam com representações equivocadas de quem é este “outro” estigmatizado. Para Mahmoud, os judeus são “maus e traiçoeiros”; para Moishe, todos os árabes são inimigos. No entanto, a representação simbólica de judeus e palestinos não é tão fácil quando retiramos sinais diacríticos, estigmatizantes ou não: retire o véu de uma mulher palestina dos territórios ocupados e a estrela-de-davi amarela do peito de um judeu do Gueto de Varsóvia e tente rotulá-los. Difícil, não?
Se a escola islâmica não ajuda, o mesmo se passa nas escolas israelenses. A renomada educadora da Universidade Hebraica de Jerusalém, Nurit Peled-Elhanan, escreveu o livro “Palestine in Israeli textbooks: ideology and propaganda in education” onde argumenta que os livros didáticos usados pelas crianças israelenses marginalizam os palestinos e servem como preparação das mesmas crianças israelenses para o serviço militar. Não se vê um palestino doutor, professor ou criança; ele é representado apenas como problema, ameaça terrorista e fazendeiro primitivo. Os mapas, por sua vez, não mostram as fronteiras do Estado de Israel, mas das terras de Israel, da Grande Israel. A população é dividida em judeus e não judeus e as terras palestinas, muitas vezes, aparecem em branco, sem qualquer legenda, como se estivessem vazias e prontas para a colonização (não é à toa que os assentados são chamados de “colonos”). Os livros não mostram os palestinos como um povo tanto quanto o israelense, tampouco pertencendo àquele lugar.
Se admitirmos que a leitura dos textos sagrados constitui uma “tradição inventada” com o objetivo de “inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado” (Hobsbawn, 1984:9), passado este historicamente apropriado, estaremos diante da impossibilidade de diálogo e convivência harmoniosa. Nenhuma das duas partes interessadas (estão mesmo interessadas?) abre mão de sua verdade, preferem a invariabilidade da tradição. Seus representantes são atraídos pela permanência da pedra, “querem ser maciças e impenetráveis” (Sartre, 1968) não querem mudar. Não interessa qual tradição foi inventada primeiro porque, para cada grupo, sua tradição é a que vale, a verdadeira.
Por este motivo, deve-se concordar com o cientista político norte-americano Norman Finkelstein (2005), odiado pelo establishment judaico por sua crítica ferrenha ao uso ideológico do holocausto em favor de toda e qualquer política israelense, estando os críticos sujeitos à acusação de antissemitismo. Ele questiona os “direitos históricos” dos judeus sobre a Palestina porque seus defensores “esquecem” os dois mil anos de colonização não judaica naquele território e os dois milênios de colonização judaica fora daquele território. Também ironiza aqueles que justificam o direito judaico sobre a terra por conta da reza em direção a Jerusalém, perguntando candidamente se estes apologistas da ocupação ilegal abririam mão de suas residências, digamos, em Manhattan, se os índios norte-americanos, exilados há dois séculos, rezassem em direção a elas.
A mesma crítica mordaz das justificativas religiosas e pseudo-históricas é feita pelo neurocientista ateu norte-americano Sam Harris. Numa de suas inúmeras palestras, ele constata que “se você se levanta amanhã e acredita que, falando algumas palavras latinas em direção a suas panquecas, elas se transmutarão no corpo de Elvis Presley, você ficou maluco. Mas, se você pensa a mesma coisa a respeito de um biscoito se transmutando no corpo de Jesus Cristo, você é apenas um católico”. É por isso que, entre os documentos mostrados pela avó de Faraj, comprovando a posse da terra, e as alegações bíblicas feitas por Mahmoud e Moishe, eu fico com os primeiros, símbolo da justiça dos homens.
Em segundo lugar, o conflito israelense-palestino impacta profundamente a saúde mental das crianças de ambos os lados. Faraj chora a morte de um amigo durante a primeira Intifada e Moishe relembra a última vez que viu um amigo antes de o carro em que viajava com sua mãe ser atacado por homens armados, possivelmente palestinos. No encontro do campo de refugiados de Daheishe, uma das crianças palestinas começou a chorar ao lembrar-se do irmão morto. Apesar dos gêmeos não demonstrarem medo ao esperar o ônibus número 22, imagina-se que muitas crianças israelenses não pensem assim e vivam aterrorizadas com medo de atentados suicidas.
Para ilustrar, uma reportagem do jornal O Globo, do final de 2012, traz o depoimento de pais israelenses e palestinos a respeito das consequências psicológicas devastadoras do conflito sobre seus filhos. No lado palestino, temos o caso de Yousef Naim, de seis anos que, a cada vez que ouve alguém falando com o tom de voz um pouco mais alto, sai gritando “um foguete vai cair no prédio!” e sente medo toda vez que uma porta bate um pouco mais forte. Do lado israelense, a tensão constante provocada pelo soar da sirene, que avisa da iminência de uma queda de foguete, leva as crianças a desenvolverem reações como regressões na escola e no comportamento em casa, dependência dos pais, insônia, incontinência urinária e agressividade.
Em terceiro lugar, observamos a utilização concomitante de categorias diferentes para classificar o mesmo grupo de pessoas. Os termos “árabes”, “palestinos” e “muçulmanos”, por um lado, e “judeus” e “israelenses”, por outro, parecem sinônimos entre si. Isto fica claro na cena em que Mahmoud nega que o documentarista com dupla cidadania seja um “judeu de verdade” por ser também americano e influenciado pela cultura deste país. O que ele quis dizer é que os judeus “maus e traiçoeiros” são os israelenses, sendo Israel um Estado judeu. Da mesma forma, nem todo árabe é palestino, nem todo palestino é árabe e ambos não são necessariamente muçulmanos.
A responsabilidade sobre a confusão conceitual recai sobre parte dos judeus que condicionam sua identidade étnica à existência do Estado de Israel. De forma geral, as vozes internas dissonantes com relação ao posicionamento oficial da maioria dos judeus brasileiros, de defesa incondicional das ações do governo israelense, são imediatamente rotuladas de “antissemitas” e “self-haters” (o caso deste escriba).
São judeus que se odeiam, são judeus não judeus. A desqualificação do “outro” é uma estratégia de defesa dos muros comunitários, cuja voz não pode ser polissêmica sob pena de esfacelamento do grupo. O “outro” deve ser extirpado, é como uma doença que precisa ser eliminada para que não contamine o restante do corpo.
Muito do antissemitismo advém do equívoco estabelecido pelo posicionamento bastante comum entre judeus no mundo todo que iguala judaísmo a sionismo. Isto não significa, obviamente, que o antissemitismo acabaria caso houvesse uma diferenciação entre a política expansionista israelense e a diversidade cultural interna ao grupo, mas desnudaria as reais intenções daqueles que odeiam os judeus por sua condição étnica, por sua intolerância ao diferente. Não judeus honestos que, eventualmente, caíram na esparrela antissemita entenderiam que não é possível misturar alhos com bugalhos. Neste sentido, o fim da ocupação dos territórios palestinos seria legal e moralmente imprescindível e passo fundamental para uma paz duradoura na região.
É inócua a discussão que propõe a responsabilização de um dos lados pela tragédia humana que assola a Palestina (ainda que todos nós tenhamos opinião a respeito). A lógica que deve prevalecer é a da convivência, e não a da vingança; do diálogo, não das armas. Conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, é cômodo a ambos os lados do conflito a violência do adversário para revigorar as suas próprias posições. O resultado é que, tanto o Hamas (apoiado por Mahmoud) quanto o governo israelense (apoiado por Moishe), “tendo concordado que a violência é o único remédio para a violência, defendem que o diálogo é inútil”. Às favas as futuras gerações.
O reencontro do documentarista com as crianças, dois anos após a primeira filmagem, é um banho de água fria no espectador. Exceção feita a Sanabel, que gostaria de encontrar mais judeus, os demais não se mostraram muito interessados no assunto “paz”. Os radicais, Mahmoud e Moishe, permanecem intransigentes; um dos gêmeos quer saber das questões cotidianas (ele não considera a “paz” uma questão trivial, do dia-a-dia); Faraj ficou pessimista e Shlomo não pensa sobre o assunto.
Em seguida, a esperança retorna à tela. O documentário termina com imagens de uma maternidade em que pais judeus e muçulmanos (presumivelmente palestinos) esperam, lado a lado, por seus filhos recém-nascidos. Os filhos estão envoltos com a vestimenta fornecida pela maternidade, nada daquela indumentária inventada pelos grupos humanos de forma a diferenciá-los entre si, nada de cultura, simples sopros de vida sem preconceitos e ódios.
Certa está a educadora Nurit Peled-Elhanan quando diz que a mudança vem de baixo, da educação, do exército de indivíduos capazes de questionar a realidade que os circunda, capazes de compreender que compartilhamos uma humanidade que se concretiza de inúmeras formas. Ainda que seja numa competição de arrotos…
Fonte: Carta Maior